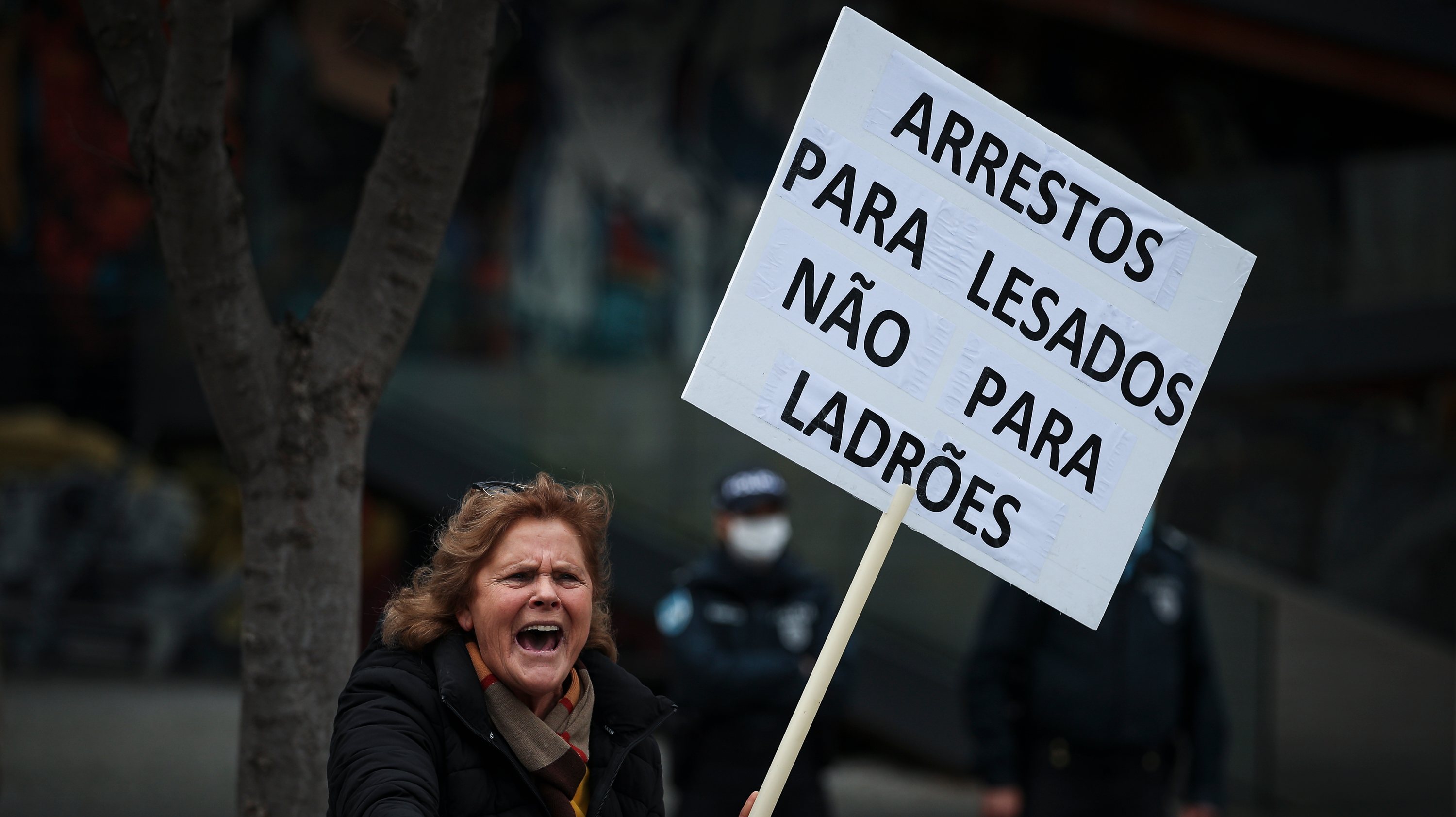A comunidade internacional atingiu na semana passada um acordo para rever as regras de tributação internacional, incluindo a definição de uma taxa mínima de imposto sobre os lucros de 15%.
Atingido no âmbito da OCDE, com 136 jurisdições aderentes, foi fortemente influenciado pelos EUA, nomeadamente por este ser o Estado mãe das grandes tecnológicas e multinacionais que se estavam a ver a braços com uma multiplicidade de medidas unilaterais de impostos sobre os serviços digitais (“digital service tax”).
Este acordo é composto por dois pilares, cada um visando colmatar lacunas distintas nas regras de tributação internacional, de forma a que as grandes multinacionais passem a pagar a sua quota parte de imposto nas jurisdições onde estão os seus clientes e não apenas na sua sede.
O Pilar 1 procura adaptar o sistema de tributação internacional aos novos modelos de negócios, revendo as regras de alocação de lucros e de conexão, de forma a que os Estados onde se situam os consumidores passem a ter direitos de tributação. O acordo agora atingido determina que 25% do lucro residual deva ser realocado a estas jurisdições.
Por sua vez, o Pilar 2 introduz regras globais anti-erosão da base fiscal para garantir um nível mínimo de tributação (os ditos 15%). De uma forma simplificada, a jurisdição da casa mãe passa a poder aplicar um adicional de imposto sobre os lucros (contabilísticos, com alguns ajustamentos nomeadamente de diferenças temporais) das subsidiárias tributados a uma taxa efetiva inferior a 15%.
Há, contudo, que salientar que estas regras apenas se aplicam a multinacionais com uma dimensão considerável. No caso do Pilar 1, multinacionais com grandes margens de rentabilidade e com um volume de negócios global de, pelo menos, 20 mil milhões de euros. No caso do Pilar 2, multinacionais com um volume de negócios consolidado de, pelo menos, 750 milhões de euros.
Terão sido estas limitações que permitiram a adesão tão alargada a este acordo político, que se pretende que seja implementado a partir de 2023. De facto, os Estados continuarão a ser soberanos na definição de taxas inferiores a 15% ou de incentivos com o mesmo resultado nas situações não abrangidas. Veja-se o caso da Irlanda, que manterá a sua taxa de 12,5%.
Consequentemente, o incentivo à não deslocalização por força da uniformização das regras não será absoluto. Há ainda uma miríade de empresas que poderão ser atraídas por sistemas fiscais transparentes, com autoridades fiscais competentes e colaborativas e com taxas efetivas de impostos tidas como justas. Ou seja, este acordo não põe fim absoluto à concorrência fiscal.
De notar ainda que os detalhes que permitirão a implementação destas regras não são ainda conhecidos e esses serão de extrema relevância para garantir que o objetivo visado é atingido sem distorções. Desde logo, a revogação dos digital services taxes e similares entretanto aprovados, e já em vigor, pelos signatários do acordo.
Estes detalhes permitirão também compreender em que medida Portugal, enquanto estado de consumo, beneficiará da realocação de receitas. Mas, dada a dimensão do nosso mercado, esse benefício não deverá ser material, muito menos quando comparado com benefícios diretos e indiretos que poderiam advir da atração dos grupos que se localizem nas franjas não diretamente abrangidas por estas regras.
Mas para isso, seria necessário, pelo menos, que se eliminassem as derramas estaduais, que se revissem as regras de tributação autónoma, que se repensasse a atuação das autoridades fiscais e que, de uma vez por todas, tivéssemos tribunais tributários a decidir em tempo útil. Muitos desígnios, cuja concretização depende da conjugação de forças políticas de diversos quadrantes. Mas se quase 140 jurisdições mundiais se entenderam, não seria possível esse acordo neste retângulo em que vivemos?